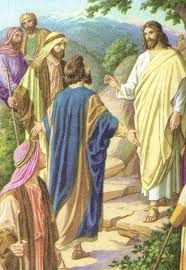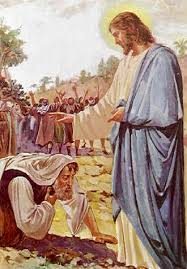(Pe. Eduardo A. Roca Oliver, missionário em Pemba) – Em Pemba, sentimos nos últimos dias que os ataques estão agora a ocorrer muito mais perto do Norte e cada vez mais perto do Sul da cidade. As comunidades contam as condições que os chefes armados lhes impõem: converter-se ao Islão, pagar o imposto para entrar nas zonas que lhes pertencem, deixar esta terra para quem não se converter, ou preparar-se para a morte. E esta Jihad, como dizem, só acabará quando o mundo acabar.

É grande o sentimento de impotência e de abandono das comunidades não muçulmanas nas zonas reivindicadas territorialmente pelos grupos jihadistas, como Mocímboa da Praia, Palma, Quissanga… Alguns denunciam políticas locais de segregação, dificultando a compra de terrenos por não muçulmanos…. Tudo indica que as comunidades muçulmanas imbuídas de radicalismo dificilmente aceitarão os que são diferentes de outra forma que não seja subjugando-os. E para as estruturas do governo local, a saída dos não-muçulmanos de Cabo Delgado parece ser uma consequência inesperadamente agradável. No entanto, pensar que estas pretensões político-religiosas radicais ficarão satisfeitas com Cabo Delgado é ignorar o alcance do plano que a Jihad internacional pretende levar a cabo.
Neste sentido, as igrejas cristãs precisam de fazer uma frente comum, porque o desafio de este Islão radicalizado, não pode ser subestimado. A Jihad, tal como a entendem aqui, é a pretensão islamizante a qualquer preço, e se é verdade que existem movimentos islâmicos não violentos, também é verdade que, tal como são geralmente interpretados, não podem renunciar ao proselitismo e não podem aceitar uma base secular comum que permita a cada religião ser e oferecer-se livremente e com igualdade de oportunidades. De facto, a lição de não proselitismo a que o Papa Francisco apelou continua a ser um assunto não aprendido, também para os cristãos. Um secularismo saudável e uma consciência inter-religiosa são elementos que temos de cultivar, assimilar e promover, se quisermos que haja paz neste mundo.

Um conflito pela justiça
Nunca é fácil perceber porque é que uma guerra começa, há normalmente mais do que um motivo evidente, mas há sempre outros que não são óbvios e que se pressentem por detrás dela. Só com o passar do tempo é que nos apercebemos do verdadeiro impacto nas famílias e comunidades com quem vivemos. Em Cabo Delgado e Nampula, que são as províncias que eu conheço, aqui no Norte, é comum ouvir queixas contra os do Sul, os de Maputo ou da Beira, ou os Machanganas, como são normalmente chamados. No início não se pensa muito nisso, porque a pobreza em Moçambique não é certamente exclusiva de Cabo Delgado ou de Nampula, e estas tensões sociais são bastante comuns em todas as realidades, mas mais tarde percebe-se que há coisas que são ditas como uma forma de expressar o que se passa mais profundamente. Às vezes, quando essas afirmações de desprezo ou mesmo de ódio contra os do Sul são mais claras e manifestas, acabamos por compreender que um dos traumas dos povos do Norte vem do facto de terem sido obrigados a aceitar a suposta superioridade dos do Sul, o que resultou num sentimento e numa atitude de resistência (semelhante aos sentimentos e atitudes provocados pelo colonialismo). E tal como aconteceu com os colonos, a resposta foi rápida e sem custos: tratou-se simplesmente de esquecer Cabo Delgado, o Norte, e deixá-lo de fora dos processos de desenvolvimento do país, uma negligência gritante para com estes povos do Norte, Macuas e Quimuanis, que até há bem pouco tempo não viam uma escola ou um centro de saúde.
Mas Cabo Delgado começou a interessar, e muito, com a descoberta de recursos naturais, o gás do Rovuma, os rubis e as pedras preciosas de Montepuez. Interesse pelas suas riquezas, mas não pelas pessoas. As multinacionais vieram, expropriaram, trouxeram os seus trabalhadores, do Sul ou do estrangeiro… comunidades sem recursos, obrigadas a abandonar as suas terras de cultivo ou de pesca, e que não são reconhecidas nem indemnizadas. Era já um terreno fértil para que qualquer proposta de justiça criasse raízes fortes.
Quando se compreende o que se passou historicamente entre os Kimuanis e os Makondes do Planalto, uma tensão alimentada pelo ódio desencadeado, entre outras razões, pelo tráfico de escravos, que antecedeu o colonialismo português, percebe-se que há uma outra vertente neste tabuleiro de xadrez, que tem a ver com as clivagens étnicas entre povos que se maltrataram mutuamente ao longo do tempo. E também aqui se percebe que houve ressentimentos nas comunidades, com os Macondes a serem privilegiados com os subsídios dos antigos combatentes, que reclamam por mérito próprio, enquanto Macuas e Quimuanis são deixados de fora. Não é por acaso que a primeira insurreição em Mocímboa, em 2017, ocorreu no ano da eleição do atual presidente maconde, simbolicamente em Outubro, mês da celebração anual dos Acordos de Paz.
Se a religião não foi um obstáculo no início, porque a verdade das comunidades muçulmanas da costa moçambicana está longe do ódio que algumas pessoas professam hoje, é preciso entender o que aconteceu com essa dimensão religiosa, que agora parece ser o principal foco de atenção. Os missionários recém-chegados a Cabo Delgado aprendem rapidamente que as comunidades muçulmanas acolheram os cristãos quando chegaram a estas terras, oferecendo-lhes mesmo terrenos e ajudando-os a construir capelas. Como diz o académico moçambicano Chabane Mutiua, esta é a verdade da narrativa que o Islão precisa de recuperar e não uma presumível ortodoxia proselitista.

Os últimos ataques desta semana em Chiúre, Mazeze, a sul de Cabo Delgado, são mais especificamente religiosos, falsamente religiosos, porque ninguém pode invocar o nome de Deus para justificar qualquer tipo de violência. Mas esta é a afirmação que certos entendimentos da religião muitas vezes qualificam. As religiões abarcam aspectos profundos da vida humana, razão pela qual o seu questionamento é facilmente interpretado como uma ameaça à identidade, e porque estão tão intimamente relacionadas com o justo reconhecimento. Para as defender de qualquer ameaça, devido ao seu forte valor cultural e existencial, justificaram-se ao longo da história todo o tipo de atitudes proselitistas, entre as quais a violência foi uma espécie de mal necessário, a que se recorreu mesmo para cumprir sacrifícios religiosos. As religiões continuam impregnadas destas atitudes, a diferentes níveis e em diferentes graus, mas não há dúvida de que as pretensões proselitistas de uma religião, seja ela qual for, não vêm sem uma certa dose de violência, que, quando não é física, é psicológica, sociológica ou moral…
No início da propaganda jihadista aqui em Cabo Delgado, circulavam no facebook e no whatsapp vídeos chocantes de muhajidines a degolar pessoas enquanto se ouvia cantilar versículos do Alcorão Sagrado. Muitos jovens e crianças acederam a eles, porque já era tarde demais quando foram denunciados e retirados das redes. O acto de cortar a garganta de um ser humano era feito nesses vídeos como se de um ritual religioso se tratasse… o ritual necessário para que esses infiéis, oferecidos em holocausto, não se perdessem na condenação eterna. Uma violência justificada ao nível da perversão religiosa. Antes do início dos ataques de Mocímboa, eram estas as exigências que os imãs radicais e violentos faziam às comunidades. Num contexto de tanta injustiça, tanta miséria, tanta exclusão e indiferença, o apelo à violência religiosa espalhou-se como fogo em tempo seco. Houve algumas experiências de imposição de costumes da Sharia nos bairros de Pemba, sobretudo às mulheres, que de repente começaram a usar o nicab. Desde o início deste conflito, houve uma pretensão religiosa radical que não mereceu a devida atenção. Mais tarde, muitos jovens, talvez não tão religiosos, mas sofrendo de miséria, juntaram-se à insurreição. Insistiram mais nas exigências de justiça, mas radicalizaram-se religiosamente, uma dinâmica que nunca parou e que ligou o conflito de Cabo Delgado a movimentos semelhantes noutros países africanos e, mais além, ao Estado Islâmico.
Após todos estes anos, penso que, face a este fenómeno, o radicalismo religioso, só se pode trabalhar prevenindo-o. Perante a radicalização religiosa, parece-me que observo elementos semelhantes aos da toxicodependência, que só podem ser intervencionados com programas de terapia e recuperação de alto custo. É evidente que o desenvolvimento das religiões monoteístas, pelo menos, proselitistas quase por definição, tende para a secularização, nos contextos mais ocidentais, ou para a radicalização, onde as condições de justiça ainda não estão presentes e não chegam à maioria das comunidades.
Para os líderes religiosos este dinamismo proselitista é, creio, o grande desafio. Torna-se urgente uma compreensão da laicidade, não como um espaço de negação do divino, mas como o espaço onde as manifestações do divino, todas elas, têm o seu lugar e são reconhecidas. As ambivalências políticas dos governos locais, que podem estar a celebrar o impacto negativo sobre a influência cristã ou não-muçulmana, não ajudam em nada a uma compreensão da justiça para as comunidades locais nestes tempos de forte mobilidade em tantas áreas da sociedade. Ajudar as comunidades a integrar aqueles que são diferentes é um dever de justiça e uma condição para o desenvolvimento de qualquer povo.